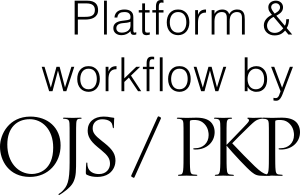Chamada de artigos: "Falar com becos sem saída" – Utopia, Catástrofe e Teoria Crítica
Editores Convidados: Bruna Della Torre e Nicholas Brown
Falar com becos sem saída,
do oposto
da sua
expatriada
significação - :
mastigar
esse pão, com
dentes que escrevem
Paul Celan
A consciência utópica quer enxergar bem longe, mas, no fundo, apenas para atravessar a escuridão bem próxima do instante que acabou de ser vivido, em que todo devir está à deriva e oculto de si mesmo. Em outras palavras: necessitamos de um telescópio mais potente, o da consciência utópica afiada, para atravessar justamente a proximidade mais imediata.
Ernst Bloch, Princípio Esperança
Desde o seu nascimento, a relação da teoria crítica com a utopia foi permeada de tensões. O marxismo nasce da exigência, formulada por Karl Marx e Friedrich Engels, de pensar a possibilidade da transformação radical da sociedade a partir de suas determinações históricas e materiais – uma exigência que emerge do confronto direto com o socialismo utópico (Charles Fourier, Robert Owen, Saint-Simon, entre outros). Contra as soluções abstratas e voluntaristas que caracterizavam essa tradição, descolada das contradições efetivas do modo de produção capitalista e da dinâmica concreta das lutas de classe – que, de resto, não invalida a importância desses autores para o pensamento marxista –, Marx e Engels passam a ancorar sua proposta de socialismo na análise crítica das formas sociais, na centralidade da luta de classes e na imanência dos processos históricos. Mais do que se dedicar a elaborar modelos de uma sociedade futura, Marx concentrou seus esforços na análise rigorosa das formas sociais capitalistas e de suas fantasmagorias.
Sua aposta se concentrava nas contradições desse sistema, que, como afirmam no Manifesto Comunista, se acirrariam a tal ponto que – mediadas pela organização da luta de classes e considerando as condições concretas para tal – tornariam a superação do modo de produção capitalista não apenas possível, como provável. Nesse horizonte, a crise não era vista como mero colapso, mas igualmente condição de possibilidade de negação da ordem vigente. Não por acaso, tanto em Marx quanto em Lukács, especialmente em História e Consciência de Classe, encontra-se uma de que a crise, entendida como fissura, poderia ensejar uma abertura histórica em relação ao domínio fetichista do capital.
A história não tardaria a revelar, entretanto, a face regressiva da crise capitalista. O colapso econômico e social no século XX não só não abriu caminho para a emancipação, como deu lugar a formas renovadas e até mesmo intensificadas de dominação. É nesse contexto que surge a Teoria Crítica da Escola de Frankfurt. No cenário de recrudescimento da Revolução Russa, do esmagamento dos levantes operários na Alemanha e, sobretudo, da ascensão do fascismo, sobrava pouco espaço para pensar a utopia. A Escola de Frankfurt passaria a investigar os mecanismos sociais, econômicos, culturais e psíquicos que permitiram a ascensão das formas mais regressivas e bárbaras no coração do capitalismo avançado, tornando-se a vertente do marxismo que mais tempo dedicou a estudar teórica e politicamente o fascismo – uma formação inseparável das próprias tendências imanentes do capitalismo.
No entanto, como afirmaria mais tarde Fredric Jameson, pensar a distopia é uma forma de pensar também a utopia. Nesse sentido, de modo contraditório, poucas tradições do marxismo foram tão utópicas quanto a teoria crítica. Walter Benjamin queria recuperar a memória revolucionária nos escombros do século XIX. Ernst Bloch, com sua ontologia do ainda-não, reinscreveu a utopia como princípio imanente à história, como aquilo que pulsa no inacabado, no latente, no possível. Herbert Marcuse insistiu na urgência de preservar a imaginação utópica contra o fechamento administrado e unidimensional do real. Theodor W. Adorno, com seu pensamento ad pessimum, criticou o socialismo por ter abdicado de seu impulso utópico e sustentou que o bloqueio da consciência – hoje disseminado em todos os espectros políticos – não deriva da distância em relação à possibilidade de uma transformação radical, mas, paradoxalmente, de sua proximidade. No século de catástrofes vivido por esses autores, a cultura tornou-se um dos principais refúgios da utopia.
O século XXI radicaliza uma lição que o século XX já havia imposto: a crise, longe de ser garantia de abertura histórica, torna-se frequentemente terreno fértil para a ascensão das direitas, para o aprofundamento da barbárie, para novas formas de autoritarismo, destruição ecológica, violência e guerra. A catástrofe, hoje, não é um evento, mas um modo de reprodução da ordem capitalista. Diante desse cenário, a pergunta pela utopia se recoloca por meio da indagação de sua própria possibilidade. Com o ressurgimento dos neofascismos mundo afora, com a crise cada vez mais profunda da reprodução social e o incremento da lógica colonialista nas periferias do capitalismo, com a hegemonização da indústria cultural e com a intensificação do processo de desertificação da arte, ainda é possível falar em utopia?
O dossiê “Falar com becos sem saída – Utopia, Catástrofe e a Teoria Crítica” convida contribuições que reflitam sobre essas questões, a partir de perspectivas teóricas, históricas, filosóficas, culturais e estéticas. Aceitamos artigos que abordem, entre outros temas:
- A teoria crítica de Marx e Engels e o socialismo utópico
- Fratura e totalidade em Georg Lukács
- Ernst Bloch, utopia e esperança
- Theodor W. Adorno para além da negatividade
- Walter Benjamin e o sonho soviético
- Expandindo horizontes: feminismos, antirracismo e crítica queer
- Bertolt Brecht e o realismo utópico
- Revolução e libertação em Herbert Marcuse
- Utopia desde baixo: teoria crítica na periferia do capitalismo
- Utopia e distopia em Fredric Jameson
- Neofascismos, barbárie persistente
- Teoria Crítica do apocalipse
- Catástrofe e utopia nas artes
- Catastrofismo como ideologia (e suas diferenças para a teoria crítica)
- Utopias e distopias da tecnologia sob o capitalismo de plataforma
Os artigos podem ser submetidos em espanhol, português ou inglês.
Prazo para submissões: 30 de Abril de 2026.